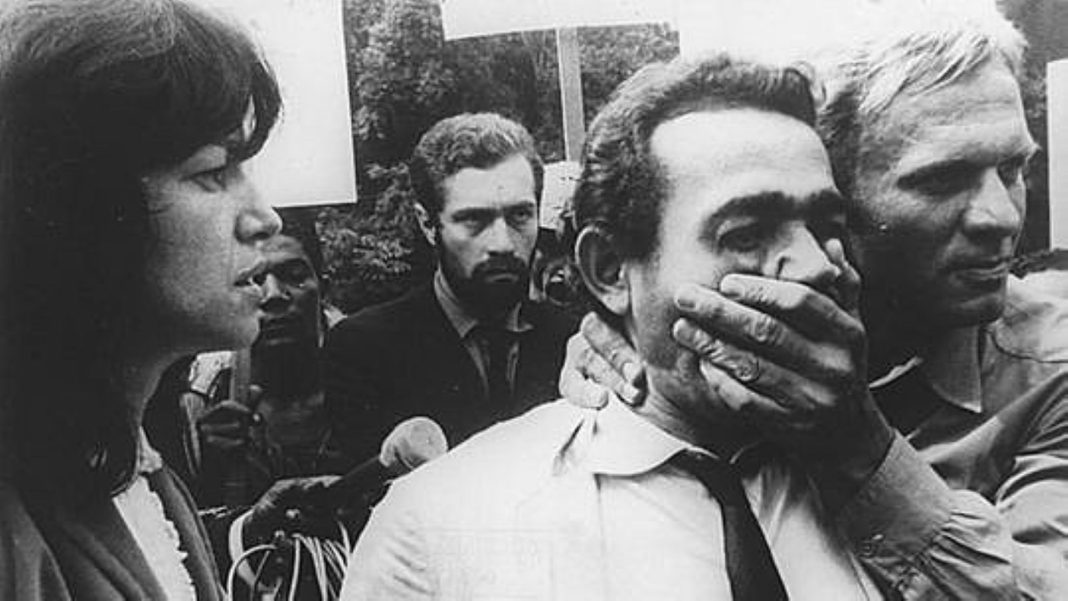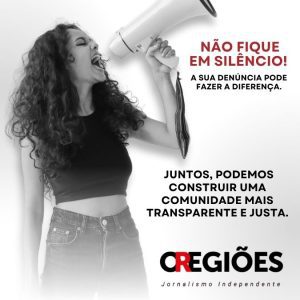A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece, no seu Artigo 19.º, que “todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão”. Como se constata, essa opinião ou expressão não é qualificada nem limitada, pressupondo-se (na ausência de outro normativo que o determine) que não está condicionada ao conhecimento genérico – muito menos ao pleno, rigoroso e especializado – da respetiva matéria. A opinião é, pois, universal.
Se assim não fosse, o voto universal – ele próprio expressão de mera opinião e assente no princípio de “um homem, um voto” – não seria admissível em Democracia, pese embora o facto de continuarem a existir vozes a defender o voto seletivo, reservado a elites económicas, sociais, culturais ou outras. Recordemos: a universalidade da capacidade eleitoral ativa dos cidadãos só foi plena e definitivamente consagrada após a Revolução de 25 de Abril de 1974, pondo-se termo aos avanços e recuos em matéria de género, literacia, capacidade económica ou ocupação socioprofissional.
A I República Portuguesa (1910-1926) conheceu cinco leis eleitorais, a primeira em 1911 que reconhecia o direito de voto a todos os “cidadãos maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever [eram menos de 30%] ou fossem chefes de família”. A não discriminação das mulheres (que permitiu o voto a Carolina Beatriz Ângelo, a primeira eleitora portuguesa, mesmo assim só após recurso em tribunal) foi considerado um lapso, prontamente corrigido (sem ser dada qualquer justificação) na lei eleitoral de 3 de julho de 1913, a qual restringiu a capacidade de voto aos “cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever”. As mulheres só viriam a ter direito de voto em 1931, mesmo assim limitado às detentoras de cursos secundários ou superiores.
Em 1918, o Decreto n.º 3907, de 11 de março, consignou a liberdade política ou garantia do sufrágio universal – mas não tão universal assim – ao prever que “serão eleitores, dos cargos políticos e administrativos, todos os cidadãos portugueses, do sexo masculino, maiores de 21 anos, que estejam no gozo dos seus direitos civis e políticos e residam em território nacional há mais de seis meses”. Ganhavam direito de voto, finalmente, os analfabetos, com o argumento de que “os povos dignos de viver sabem sempre encontrar o caminho da salvação pública”.
E acrescentava-se: “nem se diga que o iletrado é incapaz de escolher quem legitimamente o represente. Curta é a distância que separa o analfabeto do semiletrado e facilmente suprível por um sólido fundo de bom senso e hábitos de trabalho. Em sete anos que o regime conta, nunca o analfabeto lhe perturbou a marcha, e antes à sua admirável e obstinada resistência aos agentes perturbadores da atividade nacional se deve, em grande parte, a ordem relativa em que temos podido viver”.
O diploma enumera todos os excluídos do processo eleitoral (ignorando, uma vez mais, as mulheres, cuja exclusão só é explicitada tempos depois, a par dos indivíduos de nacionalidade estrangeira), a saber:
1- “As praças de pré do Exército e da Armada”;
2- “Os alienados [loucos] e bem assim os interditos por sentença com trânsito em julgado, da regência da sua pessoa e da administração de seus bens”;
3- “Os falidos, enquanto por sentença com trânsito em julgado não forem reabilitados”;
4- “Os que estiverem pronunciados por despacho com trânsito em julgado e os privados do exercício dos seus direitos políticos por efeito de sentença penal condenatória”; e
5- “Os que tiverem sido condenados como vadios, dentro do prazo de cinco anos, a contar da data da respetiva sentença”.
Apesar de o país ter adotado e imposto uma escolaridade mínima obrigatória, a qual evoluiu do saber ler e escrever para o 4º, 9º e atual 12º ano, tal não garante – como todos bem sabemos – a exatidão, sensatez ou razoabilidade de qualquer opinião ou voto, sendo até a estupidez considerada uma vulnerabilidade inerente a qualquer ser humano, por mais insigne que se considere ou seja considerado. Assim sendo, só faz sentido exigir conhecimento e fundamentação das opiniões expressas numa ótica de desenvolvimento pessoal e responsabilidade social, e nunca de liberdade de opinião e expressão (ou de voto, como se viu).
Ora, sendo o juízo ou parecer sobre uma opinião, também ele uma opinião, inibo-me – em coerência com o que acima afirmei – de limitar essa liberdade ou direito a quem quer que seja, apesar de me apetecer muito fazê-lo, de tanto que tenho ouvido – da parte de quem se afirma democrata – a tontice de criticar alguém por expressar opinião em matéria que não é do seu conhecimento. Se crítica houver a fazer, será antes à falta de bom senso ou à arrogância com que alguma opinião ignara é expressa, olvidando ou disfarçando o desconhecimento da matéria em causa, ou, em geral, daquilo que todos nós – sem exceção – realmente ignoramos sobre quase tudo.